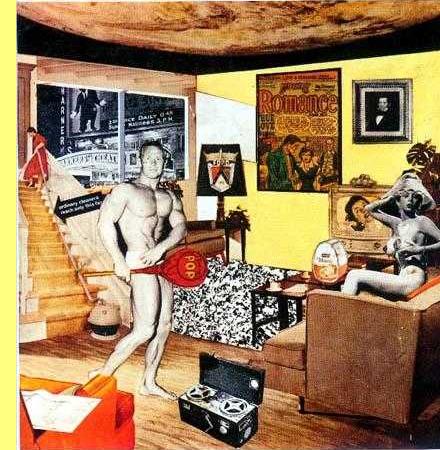Octavio Ianni falece no mesmo ano em que completaria meio século de vida intelectual intensamente dedicada à Sociologia: formou-se em Ciências Sociais na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em 1954. O meio século do que foi em sua vida, e na vida de todos nós que com ele convivemos, o meio século dos extremos: da euforia desenvolvimentista da era JK aos tempos tenebrosos da ditadura militar, de que ele foi uma das vítimas, aos tempos, enfim, de uma era de esperança e, ao que parece, por uma sua entrevista recente, de desilusões políticas.
Nesses extremos, um primeiro trabalho de Octavio sobre o samba de terreiro em Itu, sua amada terra caipira, foi o capítulo inicial de uma rica preocupação com o negro, a cultura popular, o mundo caipira, o homem simples, como ele o denominou num belo e definitivo ensaio. E também com a alegria que atravessa desde sempre nossos dilemas e nossas contradições para nos dizer que a vida é um pontilhado de opostos, único jeito de construir o novo e o mundo novo. Esse estudo é o prenúncio da obra de um homem permanentemente devotado à compreensão sociológica das diferenças sociais, das injustiças a elas associadas, das vacilações na busca de meios de superá-las. Mas nunca a obra do ingênuo do palavrório radical, tão em moda e tão inócuo, da crítica superficial e infundada.
Ao contrário, Ianni foi um pensador sereno e sensato. Ele foi um artesão do pensamento crítico no Brasil, autor de uma obra marcada de iluminuras que anunciam a estética de cada texto que escrevia para dizer-nos que o pensamento crítico não é uma farra do espírito e do denuncismo barato e incompetente. Para ele, o pensamento crítico é o pensamento responsável e fundamentado, acima das facções de toda ordem, expressão da neutralidade ética, mas não da indiferença social e política, produto da descoberta paciente, da indagação organizada, da investigação científica cuidadosa e não raro demorada. Lembro dele, meu professor no curso de graduação, explicando-me em sua apertada sala lá da rua Maria Antônia, que na sociologia a construção de uma interpretação dos dados de uma pesquisa é como a elaboração de uma sinfonia: a partir da descoberta do tema o sociólogo vai descobrindo desdobramentos, vai compondo sua obra, sua interpretação, as conexões de sentido, a explicação científica, o todo que se esconde atrás do factual, a universalidade contida no singular, no discreto e até no minúsculo.
 Ianni nunca se propôs a ser um pai da pátria, de dedo em riste discursando verdades incontestáveis, como se fosse dele o mandato de apontar rumos e denunciar descaminhos. Mas nem por isso deixou de expressar publicamente os resultados de suas observações, de expor-se à contestação se necessário, de animar a controvérsia e provocar a busca de clareza na construção de uma consciência social e política do contemporâneo. Ele nunca se afastou de uma referência clássica da sociologia, que foi uma das orientações centrais da chamada “escola sociológica de São Paulo”, uma expressão muito forte na obra de Florestan Fernandes: a sociologia é a autoconsciência científica da sociedade, a definição perfeita da missão social do sociólogo.
Ianni nunca se propôs a ser um pai da pátria, de dedo em riste discursando verdades incontestáveis, como se fosse dele o mandato de apontar rumos e denunciar descaminhos. Mas nem por isso deixou de expressar publicamente os resultados de suas observações, de expor-se à contestação se necessário, de animar a controvérsia e provocar a busca de clareza na construção de uma consciência social e política do contemporâneo. Ele nunca se afastou de uma referência clássica da sociologia, que foi uma das orientações centrais da chamada “escola sociológica de São Paulo”, uma expressão muito forte na obra de Florestan Fernandes: a sociologia é a autoconsciência científica da sociedade, a definição perfeita da missão social do sociólogo.
Não é estranho, pois, que no outro extremo de sua vida esteja uma entrevista de poucos dias antes de sua morte, publicada uma semana depois de seu falecimento, contendo dura e objetiva análise do momento político nacional e internacional, apontando não só incoerências do partido governante e do próprio governante, mas também desencontros entre a consciência política oficial e a realidade social e política deste momento histórico. Ironia oportuna da vida diante da óbvia tentativa de manipular a cena funerária por parte do partido dominante, em face do distanciamento que a própria vida acadêmica interpôs entre ele e seu colega e amigo de muitos anos, Fernando Henrique Cardoso. Manipulação injusta e descabida que já indica mais um empenho de envolvimento dos mortos nas conveniências dos vivos, como se fez com Florestan Fernandes e Milton Santos, fazendo-os autores do discurso que não fizeram e adeptos de opções que quem os conheceu sabe que provavelmente não fariam.
Entre esses pontos demarcatórios da cronologia de uma vida intelectual fecunda e exemplar, há os muitos episódios que para essa geração fizeram entrecruzar-se a biografia e a História. É nesse embate que o italianinho de Itu (designação depreciativa com que era tratado pelas famílias tradicionais, quando criança, que o magoava profundamente) supera a trama da subalternidade tecida para colher e enredar o imigrante nas funções inferiores da economia. Da adversidade dos que o destino previsível condenara a anularem-se no trabalho dependente, nasce o intelectual, o cientista competente, o autor de uma obra que é uma das mais lúcidas interpretações do Brasil, uma expressão poderosa de nossa consciência social e política.
 Mas não se politize tudo nem se transforme Ianni num reles ideólogo de partido, que ele não era e nunca se dispôs a ser. Em sua obra havia uma lindíssima tensão entre os temas duros e politizáveis da Sociologia – como a objetividade, as relações de classe, as relações raciais, o Estado, o planejamento, o globalismo – e os temas próprios do que se poderia definir como uma estética sociológica. Nos indevidamente chamados de pequenos trabalhos, há poderosas indicações de uma grande obra de autor sensível ao propriamente poético da realidade social, da fala do homem simples, das expressões estéticas da complicada e dramática sociedade contemporânea, como no seminal “O jovem radical”, em “A mentalidade do homem simples” ou em “A solidão do cidadão Kane”. Ianni permitiu e quis que o belo e o poético contidos na vida social emergissem em muitos momentos de sua obra, uma forma poderosa de crítica do homem comum ao que acabou sendo a indigência das teses sobre a chamada “exclusão social”, a louvação da pobreza como virtude, como se o homem pobre fosse ao mesmo tempo um idiota cultural, dependente dos mediadores que o calaram e capturaram sua palavra e seu direito de palavra.
Mas não se politize tudo nem se transforme Ianni num reles ideólogo de partido, que ele não era e nunca se dispôs a ser. Em sua obra havia uma lindíssima tensão entre os temas duros e politizáveis da Sociologia – como a objetividade, as relações de classe, as relações raciais, o Estado, o planejamento, o globalismo – e os temas próprios do que se poderia definir como uma estética sociológica. Nos indevidamente chamados de pequenos trabalhos, há poderosas indicações de uma grande obra de autor sensível ao propriamente poético da realidade social, da fala do homem simples, das expressões estéticas da complicada e dramática sociedade contemporânea, como no seminal “O jovem radical”, em “A mentalidade do homem simples” ou em “A solidão do cidadão Kane”. Ianni permitiu e quis que o belo e o poético contidos na vida social emergissem em muitos momentos de sua obra, uma forma poderosa de crítica do homem comum ao que acabou sendo a indigência das teses sobre a chamada “exclusão social”, a louvação da pobreza como virtude, como se o homem pobre fosse ao mesmo tempo um idiota cultural, dependente dos mediadores que o calaram e capturaram sua palavra e seu direito de palavra.
Na obra de Ianni, o homem simples fala de vários modos. Não apenas a fala simples, mas também o refinamento poético de que os simples sabem revestir as suas poucas palavras, forma de contestar na prática a retilínea opressão da racionalidade que nos domina. Não há como sonhar sem ser poeta. Mais do que ninguém na sociologia brasileira, Octavio compreendeu com sociologia e poesia o silêncio dos banidos da cena histórica, dos que foram roubados de muitos modos, não só pela burguesia e o grande capital.
Octavio encerrou o seu poema sinfônico poucos dias antes da morte com uma conferência magistral sobre a arte na ciência, na mesma Faculdade de Filosofia da USP em que estudou, em que ensinou e que o amou apesar das amarguras de um destino comum descabidamente dilacerado nos desencontros da História.
* JOSÉ DE SOUZA MARTINS é Professor titular aposentado do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e fellow de Trinity Hall e professor titular da Cátedra Simon Bolívar da Universidade de Cambridge (1993-1994). Foi aluno de Octavio Ianni na USP (1961-1964) e seu colega na antiga Cadeira de Sociologia I, de Florestan Fernandes. Dentre outros livros, autor de Florestan – Sociologia e consciência social no Brasil, Edusp – Editora da Universidade de São Paulo/Fapesp, São Paulo, 1998. Fonte: Jornal da Unicamp, Edição 248, Campinas (SP), de 19 a 25 de abril de 2004. Publicado na REA, nº 36, maio de 2004, disponível em http://www.espacoacademico.com.br/036/36cmartins.htm
PUBLICADO ORIGINALMENTE NA REA – http://espacoacademico.wordpress.com/2013/02/23/ianni-a-poesia-na-sociologia/